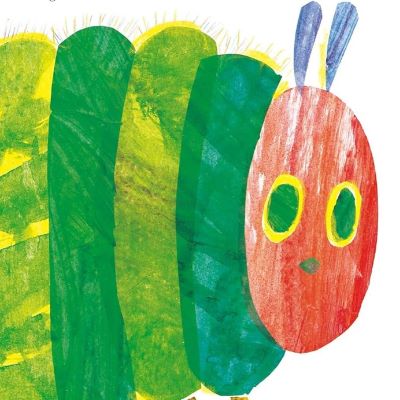Quando publicou originalmente este O filantropo, em 1998, Rodrigo Naves soltou um bicho estranho na paisagem literária brasileira.
E estranho em qualquer paisagem, diga-se de passagem. Os leitores, as resenhas da época, todos notaram primeiro esse índice de desvio, essa falta de familiaridade. Aquilo, afinal, era o quê… Eram contos? Eram ensaios confessionais? Entradas de diário misturadas a anotações de leitura? Poemas em prosa? Arcabouço ou esqueleto de um romance (coisa que normalmente já vira romance mesmo sem querer ser…)?
O impacto da leitura ficou em quem teve a chance de ler na época. Mas, acima de tudo, restava essa sensação de "novidade".
Relançada agora, quase vinte anos depois, a criatura exótica de Rodrigo Naves não está domesticada. Continua sendo besta meio mansa e meio arisca, plumada mas quadrúpede, visível só de longe, sempre fugindo, mas parecendo chamar você para mais perto.
O livro continua sem igual.
Continua ponto fora de qualquer curva.
E o fato é que eu, aqui nas minhas modestas achações, ando tendendo a achar que hoje, em 2017, esse fator é, na verdade, mais importante ainda do que era em 1998. Lá, O filantropo era um livro forte, poderoso, que calhava de ser diferente. Lido hoje, sem ter perdido nadinha da força e do estranhamento, agora ele é ainda maior, e maior precisamente por ser inapreensível.
Porque a gente foi ficando bom demais em ser bom demais. Bom demais em narrativas ajeitadas, azeitadas, bem pesadas e pensadas. Em filmes, séries, e por vezes livros milimetricamente elaborados e, por isso, sempre em alguma medida parecidos demais uns com os outros. Daí a alegria (e o momento mais que oportuno) de poder assistir em 2017 a algo como a terceira temporada de Twin Peaks, mais que bem-vinda dose de "estranhamento" no entretenimento…
E será coincidência que esse Filantropo também retorne agora?
Será que o diagnóstico dessa perfeição excessiva não é só meu?
Será que estamos mesmo precisando de um resgate de certo quadradismo?
Esquisito profissional, o poeta Gerard Manley Hopkins escreveu em 1877 um curioso poema de louvor a toda e qualquer criatura malhada. Isso mesmo. Malhada. Maculada. Imperfeita. O poema, sua ode a tudo que seja vário, raro, contrário, se chama “Pied Beauty” e, como tudo que ele fez, é perfeito. E estranho.
E o que eu sei é que me vi pensando em David Lynch, pensando em Hopkins, pensando em querer eu mesmo escrever as minhas coisas durante a leitura de O filantropo. E só isso já me parece presente bastante. Felicidade.
Eu me senti extremamente feliz de ouvir a voz lírica e cortante, evocativa e clínica do Filantropo, feliz de poder provar desse seu curioso estar entre dois mundos, entre a polifonia e a câmera da prosa, de um lado, e do outro aquele misterioso dom da cirúrgica imprecisão, da medida vagueza que faz que os melhores poemas pareçam sempre poder dizer o que mais se esforçam para deixar em silêncio.
O filantropo não é um romance e, por ser cacos de um romance, consegue ser mais que romance.
O filantropo não é poesia e, por ter lascas de poesia, consegue ser mais que poema em prosa: prosa (e quem há de negar que esta lhe é superior? Como disse o Caetano).
Não sei em que medida o título pôde (ou quis) ser lido em chave irônica, lá, vinte anos atrás. Mas o fato é que não consigo deixar de pensar que, hoje, é de fato um ato de efetiva filantropia soltar de novo na paisagem o bicho desgrenhado, alado, esquivo, esquisito, escandaloso e esdruxulamente intrigante que é O filantropo.
* * * * *
Caetano W. Galindo é professor de Linguística Histórica na Universidade Federal do Paraná e doutor em Linguística pela USP. Já traduziu livros de James Joyce, David Foster Wallace e Thomas Pynchon, entre outros. Ele colabora para o Blog da Companhia com uma coluna mensal sobre tradução.
Twitter