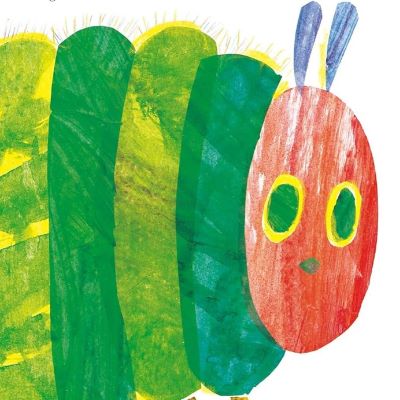Por Délcio Teobaldo
Não conheci leitor nem escritor mais disciplinado e atento do que meu avô Luiz Sabino. Camponês, na infância e na juventude; depois, operário e artesão, até a morte, não foi alfabetizado, na formalidade do abecedário. Compensava, o que seria para os outros uma deficiência inaceitável, ao viver o dia a dia com um rigor tenaz e sensível. Para ele, as manhãs, as tardes e as noites deviam ser observadas nas suas variações de luz e nos fazeres das gentes, como páginas e páginas de um livro, viradas com curiosidade e assombro, tão interessantes quanto intermináveis.
A emoção dessa leitura nos era transmitida com a mesma potência e ternura por meio de expressões, palavras e, sobretudo, gestos. Essa escrita (que, por respeito a ele, vou grifar e não dispor entre aspas, pois era contundente, verdadeira e real) não poderia ser comunicada a nós, de outra forma, porque ele não possuía a mínima destreza tátil para manejar ferramentas que não fossem as bigornas, os torqueses e os martelos de ferreiro. As mãos eram rudes, grossas demais para tocar o papel linho; os dedos polegar e indicador, defeituosos e incapazes demais para manusear o tinteiro, a pena ou o lápis.

Ilustração por Marcelo Tolentino
Ainda assim lia o mundo e o escrevia, a ferro e fogo, nas nossas retinas abertas às fantasias e aos encantos. “Esqueçam tudo que está em volta porque agora as minhas palavras serão o chão, o teto e as paredes pra vocês”. Com essa senha nos dava entrada a um pluriverso que, pasmem, era miudinho, repetitivo até, porque, uma vez que criava e fantasiava enredos com pessoas muito íntimas ou próximas a ele ou a nós, suas histórias eram óbvias demais. Mas nem por isso elas não nos faziam pairar metros acima do chão; experimentar sensações de abismos; segurar fôlego entre céus e mares ou nos sentir sem eira nem beira. Ah, não fossem a segurança das suas palavras e aquelas mãos rudes e dedos ressecados, cadenciando, ritmando o tempo, dezenas de infâncias seriam perdidas!
Tudo bem que fosse a mesma história, sim, criada e recriada durante semanas, mas os enredos se passavam de manhã (quando o galo abre a porteira do dia e as assombrações esticam os pescoços de cerração e se perdem nas nuvens); de tarde (quando quem possua algum juízo trate logo de varrer o quintal e tirar o lixo, para que o Tinhoso não se ponha de pé sobre ele e se aposse do dono e do terreiro) ou de noite (quando o galo canta para fechar a porteira do vivido, e as assombrações chegam, de mansinho, para se aninhar entre as crianças e se alimentar dos seus risos de festas e, também, dos choros de pesadelos).
Ao dividir o mundo em três – o que se é de manhã é um; ao meio-dia é dois e depois das seis é três –, ele nos crescia os medos. Assim, se de manhã a serpente fabulosa possuía apenas um chifre, ao meio-dia lhe nasciam mais dois, além das presas imensas, e, à noite, num inevitável crescente, ela trocava a pele e nos espreitava faminta. Impiedosa.
Não era à toa que, no tempo dividido em três, ele sempre finalizava os contos com este desafio: “Entrou com pé de pinto, saiu com pé de pato. Se ouviu três, contou quatro”. Terrível maneira de nos instruir sobre a responsabilidade de reconhecer o saber herdado. Basta decifrar o desafio-enigma para saber como ele é sentencioso: nas culturas populares, o pinto (futuro galo anunciador das manhãs e noites ou dileta galinha poedeira) está associado à inocência. É como deveríamos nos postar diante do avô, dos sábios, enfim, como ovos na choca ou pintinhos que ainda não dispensaram a segurança que lhes é oferecida sob as asas da mãe.
“Sair com pé de pato...” significa que, após ouvir a história, deveríamos, a partir dali, ser mais sabidos, atentos ao mundo, porque apenas ao Capeta, ao Sabido, ao Tinhoso é dado o direito de possuir pés de pato, quando criança e jovem; quando adultece, ganha os famigerados pés bifurcados de bode ou de cabra. Bom, a iniciação de passar da inocência à sabença, naturalmente, nos tornaria capazes de aumentar um ponto (quem conta um conto aumenta um ponto, estão lembrados?) na história que nos foi narrada, como determina o “... ouviu três, contou quatro”.
Risível ou inocente, mas que de inocente e risível não contêm nada, chamo essas narrativas de inventários. Inventários de chãos. Chãos que não há mais, porque perdemos, ou melhor, nos fizeram perder a percepção deles. Nesses tempos de (ab)surdos, exercitamos pouco a escuta e o olhar, sentidos vitais para as leituras do mundo; igualmente, nesses tempos de (ab)surdos, exercitamos pouco a partilha das palavras e dos gestos coletivizados, sentidos vitais para a escrita cotidiana.
Nesse contexto, ao ter ignorada sua força motriz – de chamamento, de acolhimento e geradora de impulsos –, como as palavras podem nos ser dispostas, como dizia meu avô, sendo chãos (líquidos, de terra batida, asfaltados ou de “pedrinhas de brilhantes”, como requer a fantasia); tetos (de palhoça, de telhas, de nuvens ou do que a imaginação criar) e paredes (de pães de ló, quindins ou pastéis de vento, como clamam as liberdades criativas)?
Lavrar um inventário, judicialmente ou aqui, em se tratando de literatura, pressupõe partilhas. Nesse caso, há urgência de que seja feito um inventário dos chãos dos Brasis, sejam os assemelhados aos meus, onde foram forjadas as heranças do meu avô ferreiro e contador de histórias, sejam os de massapés onde palavras pausam o pula cordas, o pique-esconde, as seis marias e redimensionam os gestos; sejam os chãos líquidos dos igarapés, onde os pés curumins experimentam a frágil e ameaçada sustentável leveza de ser (Obrigado pelo mote, Milan Kundera); sejam os do asfalto, onde os malabaristas nos sinais vermelhos mantêm olhos e gestos aéreos como se, naqueles três minutos, lhes fosse possível (e é!), tirar os pés do chão e ganhar o céu!
Experimentar essas sensações nas incursões e nos contatos revitaliza a palavra confiança (o ato de fiar junto, de tecer enredos com o outro...), principalmente, quando nos dispomos, como é alma de quaisquer brincadeiras infantis, ao ganhar e ao perder diários; no “tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar...”; no começo e recomeço; virar e revirar páginas; dividir e redividir os dias em três vezes três.
Ora, o perder para se achar é uma constante em quaisquer campos do conhecimento. Do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) que afirmava: “Quem não sabe o que busca não identifica o que acha”; passando pelo compositor Paulinho da Viola, que cantou: “Pra se entender, tem que se achar...”, chegamos à matriz do saber popular, sustentado desde sempre pelas vozes dos Josés e das Marias, nos chãos diversos e inquietantes desses Brasis afora: “Quem procura o que não perdeu, quando acha não sabe o que é”. Estejamos, portanto, atentos às perdas e às procuras...
***
Délcio Teobaldo é educador, escritor, jornalista, documentarista, etnomúsico, autor-roteirista de televisão e cinema. Autor do romance Pivetim (prêmios Barco a Vapor; APCA, finalista Jabuti), é também articulista dos jornais O Dia, Jornal do Brasil e do site “Observatório da Imprensa”, publisher da Kabula Arts and Projects (UK/BR), e produziu e dirigiu Morre Congo, fica Congo (2001), os festivais 16th The International Documentary Film Festival of Marseille (FR) e o VI Festival Latino Americano Havana (2005).